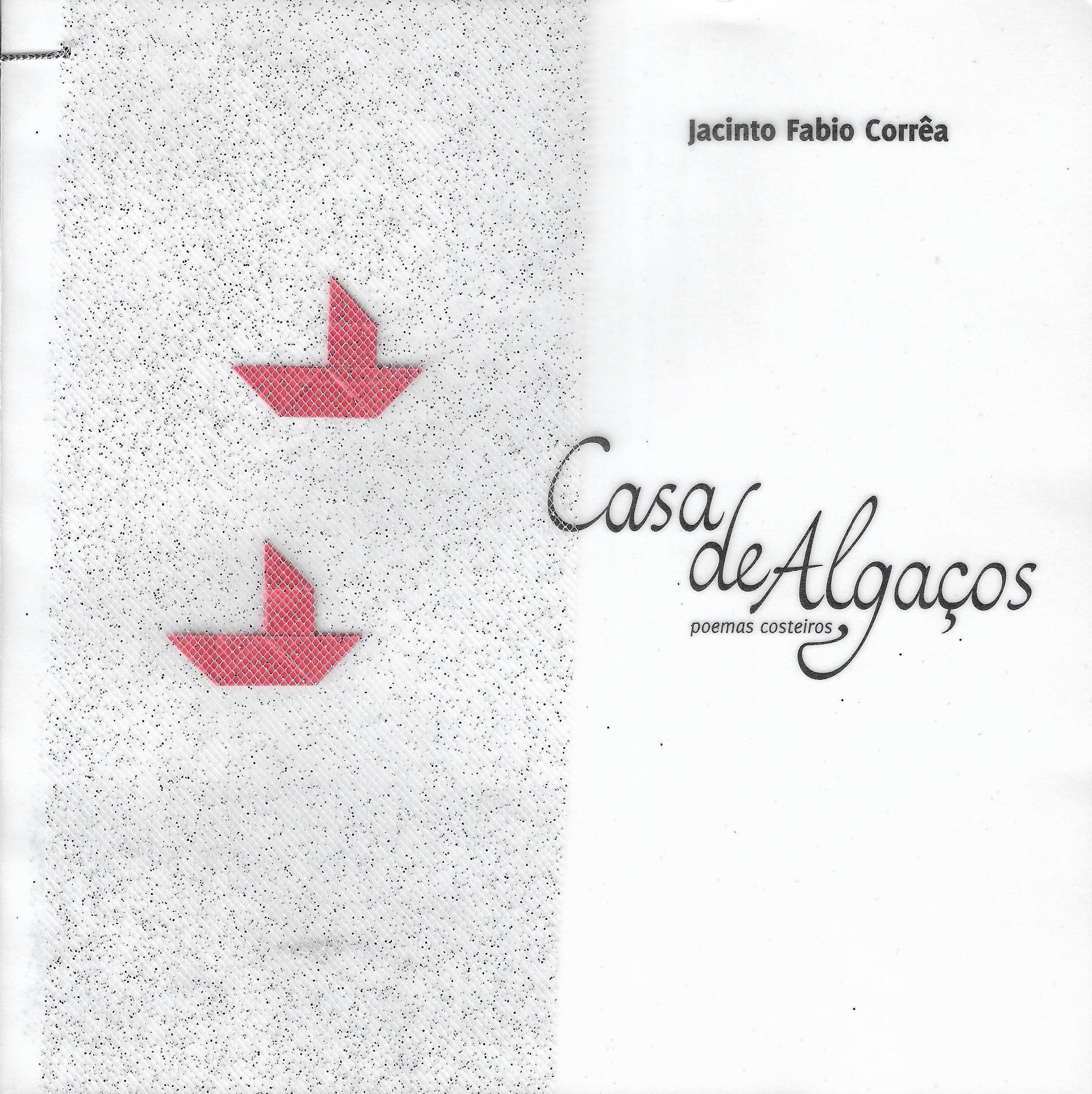
Ficha técnica
Rio de Janeiro, 2012
160 páginas, 147 poemas
Programação visual: Heliana Soneghet Pacheco
Foto: Fernando Garcia
Gráfica: Reproarte
Comentários do poeta
CASA DE ALGAÇOS – POEMAS COSTEIROS
Minha relação com o mar sempre foi mais de respeito que de admiração. Desde pequeno, ir à praia não era sinônimo de alegria, mas de observação. Não me atraíam o bom ou mau humor do mar, as areias, o horizonte a se perder de vista. O que mais me interessava era torcer para encontrar uma garrafa boiando nas águas com uma mensagem para mim vinda sabe-se lá de onde.
A garrafa nunca apareceu, mas todo o tempo de observação resultou numa constatação: apesar de minha pouca intimidade com o mar, a poesia é sua devota. São muitos os meus poemas que trazem o mar como referência ou metáfora. Um dia, essa devoção tornou-se imperativa no sentido de reunir poemas marítimos, ou como gosto de chamar, poemas costeiros. Daí surgiu o Casa de Algaços, tendo como remada inicial a necessidade imperativa de escrever sobre os oceanos.
E uma curiosidade: é meu primeiro e talvez último livro em que os poemas não trazem títulos. Não sei explicar a razão, mas eis uma aflição que não consegui vencer. Talvez o meu livro mais enigmático, mais profundo, porém cheio da maresia que aquele menino guardou para o mundo: se minha mensagem na garrafa não chegou, os leitores não ficariam sem as suas. Em cada exemplar de Casa de Algaços, ofereço um pequeno poema ou verso particular, dentro de uma pequena garrafa, para quem precisar encontrá-lo.
Poemas
Faço poemas para os maus indícios
intolerância aos ventos
embarcações fadadas a naufrágios.
É para essa gente desgovernada de paixões que escrevo
ainda que eu apenas escondido as viva.
Sou o porta-voz do caos amansado
inofensivo aos que pouco temem: somos iguais.
Não há praia, somente rebentação
o centro, por excelência, em espirais.
Meus versos abençoam os maus agouros
e rezam pelas melancolias.
Nada tenho contra as luminosidades
mas só visto a manhã com os trapos da lua nova.
Sou eu o navegante sem bússola
certo em seu destino de conhecer
os algaços que recusam a beira.
*
Pelo mar atravesso o mundo.
Se atraco, minto civilizações
desautorizo milagres.
Sob as águas mergulho homens
e a eles entrego o tesouro tão valioso:
respirar a vida de olhos abertos.
Assim a verdade se faz partilha
e posso dormir os sentimentos
em proa de conforto e sargaços.
Minha caravela de esperantos
vez por outra alça ventos e parte
do trapiche seguro do peito
para o espraiamento de encontrar.
Algum barco de espelhos, à deriva,
há de receber as flores que o Atlântico
diariamente me dá.
*
Porque parece mesmo um rio tranqüilo
mesmo porque parece nascer em mim.
Às vezes sou
água
Às vezes
bote
Às vezes
remo.
Para não deixar de ser rio às vezes mar.
*
Buscam-me a verdade.
Também eu.
Mas o que posso
e sem receios entrego
é a coragem de atravessar
o mar que jamais existiu.
Eu, o barco que tanto esperei.
*
(O não-pescador)
I
Lá se vai o menino
que indecifrava caniço, linha
para não ter que dizer ao pai:
deixa os badejos livres.
Toda vez que o anzol
fazia o seu papel
eu fingia cumprir o meu:
sorria, louco para chorar.
Perdão, pai,
desejar o fundo abissal
a todos os pesqueiros do mundo.
II
Sua intimidade com as águas
me causava ciúmes.
Meu pai parecia conversar e sorrir
com aquele monte de silêncio líquido
que nunca compreendi direito.
O mar era para mim
o que ainda hoje:
o filho mais velho de meu pai
irmão que jamais aceitarei
como o predileto da família.
III
Meu pai tocava as espumas
eu nunca – o mais distante possível.
Eu sentia (sem saber melancolia)
a falta de ar de cada corvina fisgada.
IV
Sempre a mesma bermuda cinza
as sandálias de tiras pretas
a camisa branca de listras sem cor
a bolsa azul.
Mais que um pescador
de recursos amadores
meu pai era um grande
– se não o maior –
amante do mar.
V
De toda a pescaria
eu só gostava de acordar
em plena madrugada
para acompanhar meu pai
ao deserto da Barra da Tijuca.
Lá, uma falsa esperança me dominava:
os dourados ainda deviam dormir
e nenhum seria capturado.
Minha fé durava pouco.
Em minutos, ouvia a sentença:
Peguei! E dos grandes!
E aí, de tristeza disfarçada e sono explícito,
eu adormecia encostado no caule fino
da barraca que protegia o lar maldito das iscas.
VI
Meu pesado sono
já era amparado
pelas mãos da poesia.
A lua caiu no meio da barra
causando grande tempestade:
bagres voando e mais voando
sobre desnudados submarinos.
VII
Na escuridão da última madrugada
os faróis do Aero-Willys
tentavam mas não conseguiam.
A lua, soberana por natureza,
balançava-se sobre o espelho azul.
Quando um espada morria
ela também um pouco morria.
E porque ela morria
o pontão do alvorecer chegava
crendo-se o herdeiro do trono.
Jamais.
Tamanho o poder de renascer da lua
que logo logo voltava a reinar.
Se o céu possuía um dono
esse dono não era Deus.
VIII Havia três silêncios.
O do mar.
O do meu pai.
E o meu.
O mar e meu pai se entendiam
numa espécie de sorriso cúmplice.
O meu era estrangeiro
a quem me deu a vida
e a quem dela queria me arrastar.
IX
Entre o silêncio de meu pai
e o do mar, eu via tantas árvores
impossíveis de serem confessadas.
Moram comigo até hoje
os frutos que decidi não colher.
X
Meu pai era um lindo pescador.
Mais lindo ainda quando decidia
voltar assim que chegávamos à praia.
Como se algo lhe dissesse: não.
Meu pai e o mar
eram mesmo amantes.
E sinceros.
XI
Quando ficava e nada conseguia pescar
meu pai não demonstrava tristezas.
Só dizia: hoje não era dia.
Minha secreta traição
- o coração em pulos
pela salvação dos robalos –
me obrigava a consolá-lo:
eles estavam viajando.
XII
Até que meu pai percebeu:
eu não seria um pescador.
Resolveu desarmar os caniços
e recolher os anzóis destinados a mim.
Acho que naquele dia
em que, sem melancolia, me libertou
da obrigação de ser o filho que sonhava
uma estrela caiu no mar.
Serei um poeta, pai.